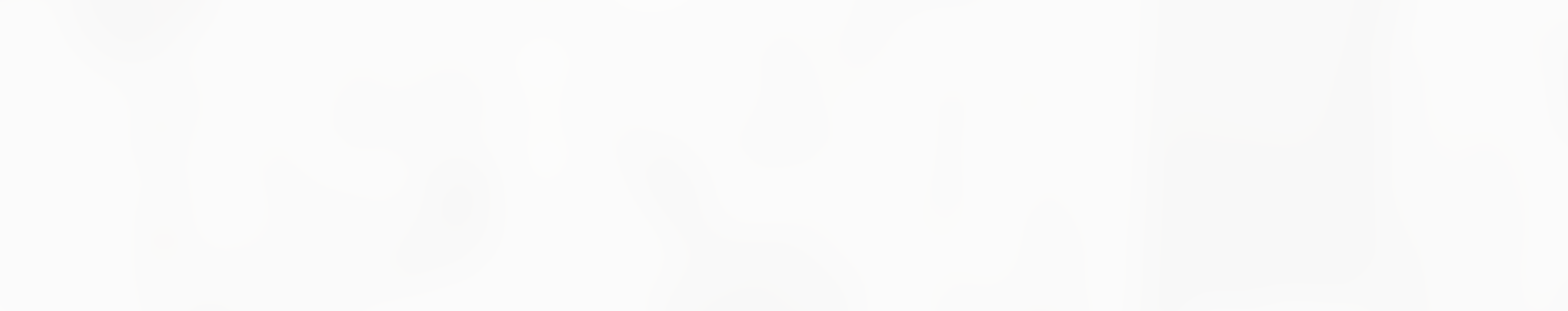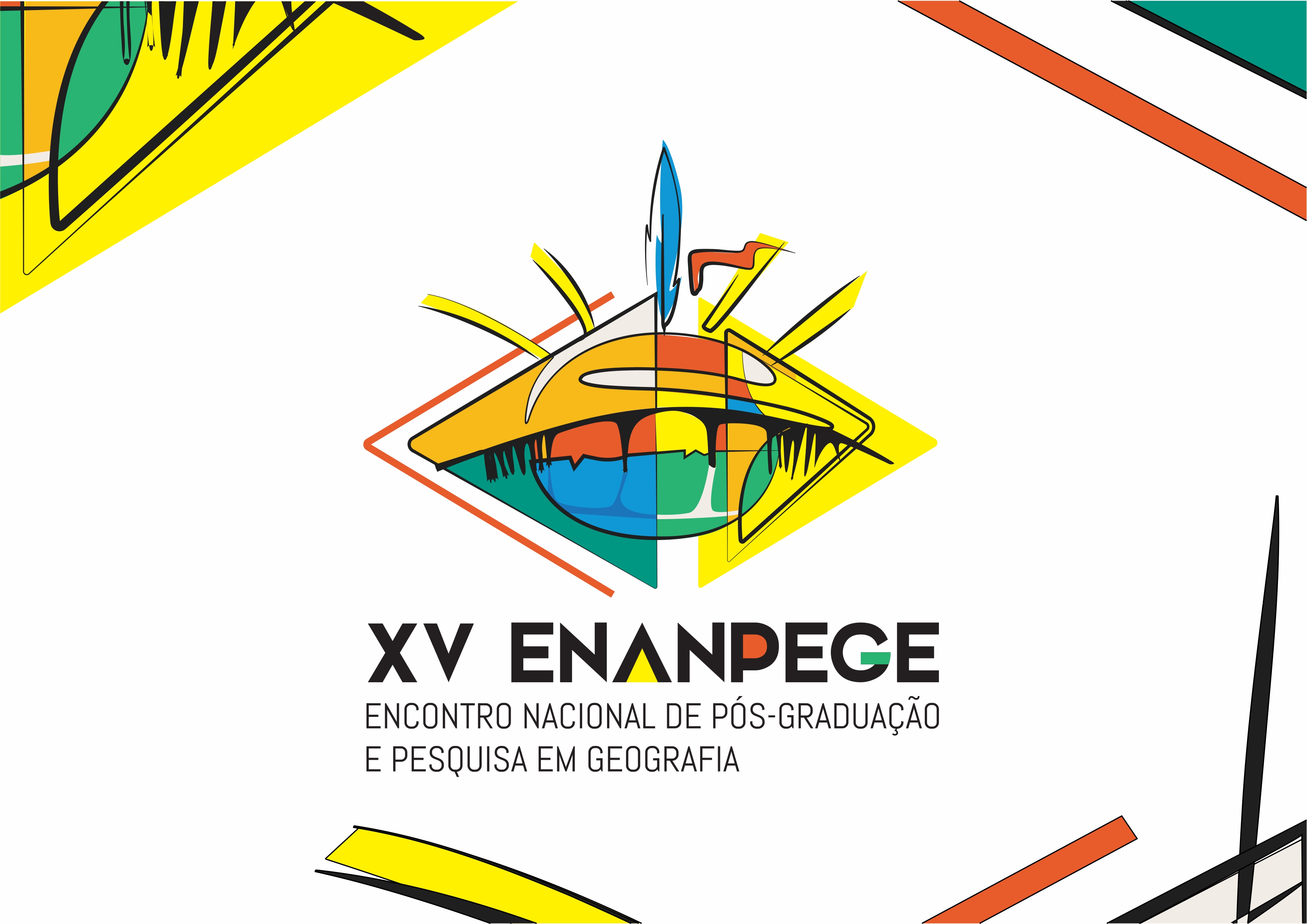A RAÇA E O RACISMO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE: O CASO DA QUESTAO AGRÁRIA BAIANA
"2023-12-12 08:24:54" // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php
App\Base\Administrativo\Model\Artigo {#1845 // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php #connection: "mysql" +table: "artigo" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: false #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:35 [ "id" => 94450 "edicao_id" => 317 "trabalho_id" => 1469 "inscrito_id" => 3532 "titulo" => "A RAÇA E O RACISMO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE: O CASO DA QUESTAO AGRÁRIA BAIANA" "resumo" => "Esse trabalho parte das inquietações da autora quanto a dois temas que estão na base das desigualdades sociais no Brasil: a questão racial e a questão agrária. Entendemos que a leitura crítica da questão agrária brasileira presume um entendimento acerca dos conceitos de raça e racismo, bem como do entendimento da formação de um sistema-mundo que define novas relações de poder a nível mundial e mantem uma hierarquia das identidades por ele criada, a saber as identidades raciais e as identidades geopolíticas. Portanto, partimos da concretude da constituição de um sistema-mundo capitalista, patriarcal, ocidental, cristão, moderno e colonialista (GROSFOGUEL, 2008), da imposição de um padrão de poder com base na raça, denominado por Quijano (2010) de colonialidade do poder, e mais ainda, da realidade da escravidão como instituição que no Brasil perdurou mais de três séculos e resultou na institucionalização do racismo, moldado desde o século XVI. Mesmo comprovada pelas ciências a falsidade da ideia de raças humana, seus males permanecem socialmente como uma construção que permeia todas as relações sociais e está na base da estrutura da sociedade, dessa forma, o racismo também é estrutural. Com relação ao campo, observa-se que temos ainda poucos estudos específicos acerca da articulação entre o racismo e a questão agrária, sendo uma exceção o recente trabalho de Girardi (2022). Este autor analisou os dados do Censo Agropecuário de 2017, demonstrando a indissociabilidade da questão racial e da questão agrária no Brasil, esses dados trazem, pela primeira vez, a categoria raça para analisar os produtores dos estabelecimentos agropecuários no Brasil sendo uma importante contribuição para entender a realidade do campo brasileiro. Nosso objetivo com esse artigo é analisar as imbricações da questão agrária e da questão racial em um recorte regional, tendo a Bahia como referência, através da análise dos dados disponibilizados no último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Nos apoiaremos ainda em trabalhos produzidos dentro do Grupo de Pesquisa Geografar que analisou o campo baiano e outros textos para referência. METODOLOGIA Esse trabalho foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica, tendo como principal aporte teóricos para análise a abordagem decolonial. Os dados quantitativos apresentados foram coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e analisados a partir da abordagem referenciada. RESULTADOS E DISCUSSÃO Considerada a partir de uma análise pluriescalar, a Bahia assume lócus de análise em que é possivel observar os efeitos de determinadas tomadas de decisões que repercutem no tempo e espaço de variadas formas. Assim, as observações feitas nesse trabalho são resultado de ações que podem remeter até o século XVI, período das grandes “descobertas”, que mudaram de forma radical a organização do trabalho e da vida dos sujeitos de todo o mundo, alterando o modo de uso da terra e dos bens da natureza de forma profunda com a apropriação privada desses bens por uma pequena parte da população mundial. Nesse processo de conquista e possessão, a humanidade de diversos povos foram colocadas em questão o que levou à expropriação, mas também à escravidão e genocídio de milhares de mulheres e homens nas Américas, África e Europa (GROSFOGUEL, 2016) o que levou à produção de um padrão de poder caracterizado pela imposição de uma classificação racial/étnica da população mundial e que é parte constitutiva e específica do padrão de poder capitalista (QUIJANO, 2010). No Brasil, a apropriação, pelos portugueses, das terras dos diversos povos originários no processo de conquista e a sua posterior distribuição com a decisão de povoamento dessas terras, foi dado a partir de uma lógica concentracionista, com um viés patriarcal, religioso, classista e racista, primeiro com a concessão de terras através do sistema de sesmarias, primeira política de acesso a terra praticada pelos portugueses (GERMANI, 2006), mais tarde já no Brasil Império, com a transformação da terra em mercadoria, através da Lei de Terra, Lei 601 de 1850. O século XIX apresenta-se, para nossa análise, com tomadas de decisões importantes, capazes de repercutir até os dias atuais na organização do campo, com a criação de mecanismos capazes de reproduzir uma ordem racista e classista que permeia as desigualdades sociais até a atualidade, dando contornos específicos à nossa questão agrária, sendo a transformação da terra em mercadoria uma questão de base. Assim, consideramos a raça e o racismo como categorias de análise que foram tomando forma, a partir do século XVI, e ganharam contornos importantes a partir do século XIX, com os debates em torno da abolição da escravatura e os embates entre conservadores e liberais, além da ação direta dos sujeitos escravizados que tiveram papel importante no desmantelamento da escravidão. A Bahia recebeu os primeiros colonizadores e também as primeiras levas de escravizados, ainda no século XVI, representando um importante porto do tráfico negreiro, perdendo sua importância para o Rio de Janeiro após a vinda da Corte e a ascensão do ciclo de café (CARVALHO, 2018). Com o fim da escravidão, os ex-escravizados baianos, muitos advindos do campo, com receio da possibilidade de restabelecimento do regime escravista com o advento da República, usaram como estratégia a mudança de localidade, indo para a cidade atrás de oportunidades (FRAGA, 2014). No campo iniciavam os conflitos de uma nova ordem: os ex-escravizados enfrentavam antigos senhores e exigiam novas relações de trabalho, inclusive exigindo área para produção própria. O caso do Recôncavo baiano, que teve como resultado ainda a saída de muitos senhores de suas propriedades rurais, antes do 13 de maio, refugiando-se na cidade, ao retornar no pós abolição, estes tentavam reaver as propriedades que haviam sido apropriadas por ex-escravizados que, abandonaram os canaviais e começavam uma nova produção, voltada para o abastecimento das feiras locais (FRAGA, 2018). Assim, com o fim da escravidão iniciava-se uma nova fase para ex-escravos e ex-senhores, com foco nos conflitos pela posse da terra e em torno das relações de trabalho. Note-se que a Bahia, não obstante ter sido um dos primeiros estados a ter colonização para imigrantes, não recebeu grandes levas de imigrantes, que passaram a ser destinadas, principalmente, às regiões cafeeiras. O pós-abolição teve como consequência, ainda, o recrudescimento do controle da população negra e sua marginalização. Os conflitos entre ex-senhores e ex-escravizados, mais ainda a população afrodescendente que já era livre, ganham novos contornos. O racismo vai permeando essas relações, demonstrada pela disparidade no acesso à terra e na condição que o acesso é dado, inclusive na fragilidade jurídica na garantia da posse, representando uma posse fora dos marcos da legalidade jurídica instituída, em que muitos desses sujeitos adentraram terras devolutas no interior do sertão. Questão originária e ainda atual das populações tradicionais, marcadamente de origem negra (e indígena), que não conseguem ter o direito de posse garantido e vivem sob constante ameaça a cada movimento do capital sobre seus territórios. Nesse sentido, observa que a população rural baiana tem uma significativa participação das Comunidades Tradicionais, são os fundo e fecho de pasto, os quilombos, as áreas de atividade pesqueira tradicionais e ainda os acampamentos de trabalhadores rurais sem-terra e áreas de reforma agrária. Diante dessa realidade, observa-se que a população afrodescendente representa uma parcela importante da população baiana que conta com 14.016.906 pessoas. Desse total 72,01% representa a população urbana e 27,9% população rural. Dentro do universo total da população baiana, os autodeclarados branco representa 18,7%, diante de 80,4% que se declaram preto ou pardo, configurando a população negra (IBGE, 2021). A Bahia possui 762,8 mil estabelecimentos agropecuários, distribuídos em 28 milhões de hectares. A distribuição desses 28 milhões de hectares representa uma estrutura fundiária concentradora, estando a maior parte na agricultura não familiar. Enquanto o maior número de estabelecimentos na Bahia possui o tamanho da área entre mais de 0,01ha até menos de 5ha, com 356.250 estabelecimentos, representando 46,7% do total, estes possuem apenas 2,3% da área total, enquanto os estabelecimentos acima de 10.000ha, com 191 estabelecimentos, representam 0,03% do total, mas garantem 13,87% da área. Entretanto, o quadro de desigualdades ganha novos contornos quando cruzamos os dados referentes a cor/raça, sendo o grupo representado pelos negros os que se mantem nas piores condições de acesso à terra. Entre a população rural baiana, o grupo social que se autoidentifica como branco, possui 189.484 estabelecimentos e ocupam 12.772.692ha, que representa 25% dos estabelecimentos, e 45,5% da área total, a distribuição da área pelo número de estabelecimentos dá uma média de 67,4ha por estabelecimento; enquanto os negros possuem 557.801 estabelecimentos distribuídos em 12.144.709ha, somando 73,6% dos estabelecimentos, e ocupam 43,2% da área, dando uma média de 21,7ha por estabelecimento, uma diferença de 45,7ha entre na média de área de brancos e negros. Quando analisamos os dados que apresentam os grupos raciais por grupo de áreas percebemos que a participação da população negra é maior nos grupos de área menores, em verdadeiros minifúndios . Assim no grupo de área de 0,1ha até menos de 5ha, contabiliza 65.282 estabelecimentos com brancos a frente, o que representa 18,7% dos estabelecimentos, que ocupa uma área de 143.399ha, somando 22% da área. No mesmo grupo de área temos 279.215 estabelecimentos com produtores negros à frente, representando 80% do total distribuídos em 506.505ha, o que dá 78,1% do total de área. Essa distribuição de terras dá uma média de 2,1ha para o grupo branco e 1,8 para negros. Quanto mais o tamanho da área cresce, mais aumenta a participação de brancos e diminui a de negros. Nos estabelecimentos com 200ha até menos de 2.500ha são 9.239 estabelecimentos com brancos a frente, representando 52,7% do total de estabelecimentos, com área de 5.156.553ha, que dá 55,3% da área do total; no mesmo grupo de área temos 7.766 estabelecimentos com negros como produtores, que dá 44,3% dos estabelecimentos, em uma área de 3.771.038ha, representando 40,4% do total. A distribuição de terras nesse grupo de área dá uma média de 558ha por branco, e 485ha por negro, uma diferença de 73ha. CONSIDERAÇÕES FINAIS Constata-se a materialização do racismo no campo baiano a partir do cruzamento da categoria raça com dados referente à estrutura fundiária, demonstrando a permanência do racismo como mecanismo de manutenção de desigualdades socioeconômicas no campo, o que demonstra que a raça é um demarcador social em que pessoas negras estão em situação mais vulnerabilizadas que pessoas brancas, demonstrando que a questão agrária é indissociável da questão racial e permeia as relações no campo. Palavras-chave: questão agrária; questão racial; campo baiano; desigualdade. REFERÊNCIAS CARVALHO, Marcus J. M. Cidades Escravas. In: Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos. SCHWARCZ, Lilian Moritz; GOMES, Flávio Santos (orgs.). 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2018. FRAGA. Walter. O cotidiano movediço do pós-abolição: os ex-escravizados na cidade de Salvador, 1889-1890. In: GOMES, Flávio; DOMINGUES, Petrônio (org.). Políticas da Raça: experiências e legados da abolição e da pós-emancipação no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2014 FRAGA. Walter. Pós-abolição; o dia seguinte. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e GOMES, Flávio (orgs.). Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. GERMANI, Guiomar. Condições históricas e sociais que regulam o acesso a terra no espaço agrário. GeoTextos: revista da Pós-graduação em geografia, vol. 2, n. 2, 2006 (pp. 115-148). GIRARDI, Eduardo. A indissociabilidade entre a questão agrária e a questão racial no Brasil: análise da situação do negro no campo a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2017 – São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2022. GROSFOGUEL, Ramon. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. In: Revista Sociedade e Estado. Vol. 31, Núm. 1. Janeiro/Abril 2016. _____. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 80 | 2008, disponível em: URL: http://rccs.revues.org/697; DOI : 10.4000/rccs.697 QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SOUZA SANTOS, B; MENEZES, M. P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo. Cortez, 2010." "modalidade" => "Resumo Expandido" "area_tematica" => "GT 48: GEOGRAFIAS, GIRO DESCOLONIAL E EPISTEMOLOGIAS DO SUL" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV187_MD6_ID3532_TB1469_27112023170901.pdf" "created_at" => "2023-12-13 15:26:30" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "IRANI SANTOS SOARES" "autor_nome_curto" => "irani SANTOS SO" "autor_email" => "iranisoares1982@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xv-enanpege" "edicao_nome" => "Anais do XV ENANPEGE" "edicao_evento" => "ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA" "edicao_ano" => 2023 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2023" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "657b13a0c25c6_14122023113928.jpg" "data_publicacao" => null "edicao_publicada_em" => "2023-12-12 08:24:54" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #original: array:35 [ "id" => 94450 "edicao_id" => 317 "trabalho_id" => 1469 "inscrito_id" => 3532 "titulo" => "A RAÇA E O RACISMO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE: O CASO DA QUESTAO AGRÁRIA BAIANA" "resumo" => "Esse trabalho parte das inquietações da autora quanto a dois temas que estão na base das desigualdades sociais no Brasil: a questão racial e a questão agrária. Entendemos que a leitura crítica da questão agrária brasileira presume um entendimento acerca dos conceitos de raça e racismo, bem como do entendimento da formação de um sistema-mundo que define novas relações de poder a nível mundial e mantem uma hierarquia das identidades por ele criada, a saber as identidades raciais e as identidades geopolíticas. Portanto, partimos da concretude da constituição de um sistema-mundo capitalista, patriarcal, ocidental, cristão, moderno e colonialista (GROSFOGUEL, 2008), da imposição de um padrão de poder com base na raça, denominado por Quijano (2010) de colonialidade do poder, e mais ainda, da realidade da escravidão como instituição que no Brasil perdurou mais de três séculos e resultou na institucionalização do racismo, moldado desde o século XVI. Mesmo comprovada pelas ciências a falsidade da ideia de raças humana, seus males permanecem socialmente como uma construção que permeia todas as relações sociais e está na base da estrutura da sociedade, dessa forma, o racismo também é estrutural. Com relação ao campo, observa-se que temos ainda poucos estudos específicos acerca da articulação entre o racismo e a questão agrária, sendo uma exceção o recente trabalho de Girardi (2022). Este autor analisou os dados do Censo Agropecuário de 2017, demonstrando a indissociabilidade da questão racial e da questão agrária no Brasil, esses dados trazem, pela primeira vez, a categoria raça para analisar os produtores dos estabelecimentos agropecuários no Brasil sendo uma importante contribuição para entender a realidade do campo brasileiro. Nosso objetivo com esse artigo é analisar as imbricações da questão agrária e da questão racial em um recorte regional, tendo a Bahia como referência, através da análise dos dados disponibilizados no último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Nos apoiaremos ainda em trabalhos produzidos dentro do Grupo de Pesquisa Geografar que analisou o campo baiano e outros textos para referência. METODOLOGIA Esse trabalho foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica, tendo como principal aporte teóricos para análise a abordagem decolonial. Os dados quantitativos apresentados foram coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e analisados a partir da abordagem referenciada. RESULTADOS E DISCUSSÃO Considerada a partir de uma análise pluriescalar, a Bahia assume lócus de análise em que é possivel observar os efeitos de determinadas tomadas de decisões que repercutem no tempo e espaço de variadas formas. Assim, as observações feitas nesse trabalho são resultado de ações que podem remeter até o século XVI, período das grandes “descobertas”, que mudaram de forma radical a organização do trabalho e da vida dos sujeitos de todo o mundo, alterando o modo de uso da terra e dos bens da natureza de forma profunda com a apropriação privada desses bens por uma pequena parte da população mundial. Nesse processo de conquista e possessão, a humanidade de diversos povos foram colocadas em questão o que levou à expropriação, mas também à escravidão e genocídio de milhares de mulheres e homens nas Américas, África e Europa (GROSFOGUEL, 2016) o que levou à produção de um padrão de poder caracterizado pela imposição de uma classificação racial/étnica da população mundial e que é parte constitutiva e específica do padrão de poder capitalista (QUIJANO, 2010). No Brasil, a apropriação, pelos portugueses, das terras dos diversos povos originários no processo de conquista e a sua posterior distribuição com a decisão de povoamento dessas terras, foi dado a partir de uma lógica concentracionista, com um viés patriarcal, religioso, classista e racista, primeiro com a concessão de terras através do sistema de sesmarias, primeira política de acesso a terra praticada pelos portugueses (GERMANI, 2006), mais tarde já no Brasil Império, com a transformação da terra em mercadoria, através da Lei de Terra, Lei 601 de 1850. O século XIX apresenta-se, para nossa análise, com tomadas de decisões importantes, capazes de repercutir até os dias atuais na organização do campo, com a criação de mecanismos capazes de reproduzir uma ordem racista e classista que permeia as desigualdades sociais até a atualidade, dando contornos específicos à nossa questão agrária, sendo a transformação da terra em mercadoria uma questão de base. Assim, consideramos a raça e o racismo como categorias de análise que foram tomando forma, a partir do século XVI, e ganharam contornos importantes a partir do século XIX, com os debates em torno da abolição da escravatura e os embates entre conservadores e liberais, além da ação direta dos sujeitos escravizados que tiveram papel importante no desmantelamento da escravidão. A Bahia recebeu os primeiros colonizadores e também as primeiras levas de escravizados, ainda no século XVI, representando um importante porto do tráfico negreiro, perdendo sua importância para o Rio de Janeiro após a vinda da Corte e a ascensão do ciclo de café (CARVALHO, 2018). Com o fim da escravidão, os ex-escravizados baianos, muitos advindos do campo, com receio da possibilidade de restabelecimento do regime escravista com o advento da República, usaram como estratégia a mudança de localidade, indo para a cidade atrás de oportunidades (FRAGA, 2014). No campo iniciavam os conflitos de uma nova ordem: os ex-escravizados enfrentavam antigos senhores e exigiam novas relações de trabalho, inclusive exigindo área para produção própria. O caso do Recôncavo baiano, que teve como resultado ainda a saída de muitos senhores de suas propriedades rurais, antes do 13 de maio, refugiando-se na cidade, ao retornar no pós abolição, estes tentavam reaver as propriedades que haviam sido apropriadas por ex-escravizados que, abandonaram os canaviais e começavam uma nova produção, voltada para o abastecimento das feiras locais (FRAGA, 2018). Assim, com o fim da escravidão iniciava-se uma nova fase para ex-escravos e ex-senhores, com foco nos conflitos pela posse da terra e em torno das relações de trabalho. Note-se que a Bahia, não obstante ter sido um dos primeiros estados a ter colonização para imigrantes, não recebeu grandes levas de imigrantes, que passaram a ser destinadas, principalmente, às regiões cafeeiras. O pós-abolição teve como consequência, ainda, o recrudescimento do controle da população negra e sua marginalização. Os conflitos entre ex-senhores e ex-escravizados, mais ainda a população afrodescendente que já era livre, ganham novos contornos. O racismo vai permeando essas relações, demonstrada pela disparidade no acesso à terra e na condição que o acesso é dado, inclusive na fragilidade jurídica na garantia da posse, representando uma posse fora dos marcos da legalidade jurídica instituída, em que muitos desses sujeitos adentraram terras devolutas no interior do sertão. Questão originária e ainda atual das populações tradicionais, marcadamente de origem negra (e indígena), que não conseguem ter o direito de posse garantido e vivem sob constante ameaça a cada movimento do capital sobre seus territórios. Nesse sentido, observa que a população rural baiana tem uma significativa participação das Comunidades Tradicionais, são os fundo e fecho de pasto, os quilombos, as áreas de atividade pesqueira tradicionais e ainda os acampamentos de trabalhadores rurais sem-terra e áreas de reforma agrária. Diante dessa realidade, observa-se que a população afrodescendente representa uma parcela importante da população baiana que conta com 14.016.906 pessoas. Desse total 72,01% representa a população urbana e 27,9% população rural. Dentro do universo total da população baiana, os autodeclarados branco representa 18,7%, diante de 80,4% que se declaram preto ou pardo, configurando a população negra (IBGE, 2021). A Bahia possui 762,8 mil estabelecimentos agropecuários, distribuídos em 28 milhões de hectares. A distribuição desses 28 milhões de hectares representa uma estrutura fundiária concentradora, estando a maior parte na agricultura não familiar. Enquanto o maior número de estabelecimentos na Bahia possui o tamanho da área entre mais de 0,01ha até menos de 5ha, com 356.250 estabelecimentos, representando 46,7% do total, estes possuem apenas 2,3% da área total, enquanto os estabelecimentos acima de 10.000ha, com 191 estabelecimentos, representam 0,03% do total, mas garantem 13,87% da área. Entretanto, o quadro de desigualdades ganha novos contornos quando cruzamos os dados referentes a cor/raça, sendo o grupo representado pelos negros os que se mantem nas piores condições de acesso à terra. Entre a população rural baiana, o grupo social que se autoidentifica como branco, possui 189.484 estabelecimentos e ocupam 12.772.692ha, que representa 25% dos estabelecimentos, e 45,5% da área total, a distribuição da área pelo número de estabelecimentos dá uma média de 67,4ha por estabelecimento; enquanto os negros possuem 557.801 estabelecimentos distribuídos em 12.144.709ha, somando 73,6% dos estabelecimentos, e ocupam 43,2% da área, dando uma média de 21,7ha por estabelecimento, uma diferença de 45,7ha entre na média de área de brancos e negros. Quando analisamos os dados que apresentam os grupos raciais por grupo de áreas percebemos que a participação da população negra é maior nos grupos de área menores, em verdadeiros minifúndios . Assim no grupo de área de 0,1ha até menos de 5ha, contabiliza 65.282 estabelecimentos com brancos a frente, o que representa 18,7% dos estabelecimentos, que ocupa uma área de 143.399ha, somando 22% da área. No mesmo grupo de área temos 279.215 estabelecimentos com produtores negros à frente, representando 80% do total distribuídos em 506.505ha, o que dá 78,1% do total de área. Essa distribuição de terras dá uma média de 2,1ha para o grupo branco e 1,8 para negros. Quanto mais o tamanho da área cresce, mais aumenta a participação de brancos e diminui a de negros. Nos estabelecimentos com 200ha até menos de 2.500ha são 9.239 estabelecimentos com brancos a frente, representando 52,7% do total de estabelecimentos, com área de 5.156.553ha, que dá 55,3% da área do total; no mesmo grupo de área temos 7.766 estabelecimentos com negros como produtores, que dá 44,3% dos estabelecimentos, em uma área de 3.771.038ha, representando 40,4% do total. A distribuição de terras nesse grupo de área dá uma média de 558ha por branco, e 485ha por negro, uma diferença de 73ha. CONSIDERAÇÕES FINAIS Constata-se a materialização do racismo no campo baiano a partir do cruzamento da categoria raça com dados referente à estrutura fundiária, demonstrando a permanência do racismo como mecanismo de manutenção de desigualdades socioeconômicas no campo, o que demonstra que a raça é um demarcador social em que pessoas negras estão em situação mais vulnerabilizadas que pessoas brancas, demonstrando que a questão agrária é indissociável da questão racial e permeia as relações no campo. Palavras-chave: questão agrária; questão racial; campo baiano; desigualdade. REFERÊNCIAS CARVALHO, Marcus J. M. Cidades Escravas. In: Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos. SCHWARCZ, Lilian Moritz; GOMES, Flávio Santos (orgs.). 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2018. FRAGA. Walter. O cotidiano movediço do pós-abolição: os ex-escravizados na cidade de Salvador, 1889-1890. In: GOMES, Flávio; DOMINGUES, Petrônio (org.). Políticas da Raça: experiências e legados da abolição e da pós-emancipação no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2014 FRAGA. Walter. Pós-abolição; o dia seguinte. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e GOMES, Flávio (orgs.). Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. GERMANI, Guiomar. Condições históricas e sociais que regulam o acesso a terra no espaço agrário. GeoTextos: revista da Pós-graduação em geografia, vol. 2, n. 2, 2006 (pp. 115-148). GIRARDI, Eduardo. A indissociabilidade entre a questão agrária e a questão racial no Brasil: análise da situação do negro no campo a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2017 – São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2022. GROSFOGUEL, Ramon. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. In: Revista Sociedade e Estado. Vol. 31, Núm. 1. Janeiro/Abril 2016. _____. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 80 | 2008, disponível em: URL: http://rccs.revues.org/697; DOI : 10.4000/rccs.697 QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SOUZA SANTOS, B; MENEZES, M. P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo. Cortez, 2010." "modalidade" => "Resumo Expandido" "area_tematica" => "GT 48: GEOGRAFIAS, GIRO DESCOLONIAL E EPISTEMOLOGIAS DO SUL" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV187_MD6_ID3532_TB1469_27112023170901.pdf" "created_at" => "2023-12-13 15:26:30" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "IRANI SANTOS SOARES" "autor_nome_curto" => "irani SANTOS SO" "autor_email" => "iranisoares1982@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xv-enanpege" "edicao_nome" => "Anais do XV ENANPEGE" "edicao_evento" => "ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA" "edicao_ano" => 2023 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2023" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "657b13a0c25c6_14122023113928.jpg" "data_publicacao" => null "edicao_publicada_em" => "2023-12-12 08:24:54" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #changes: [] #casts: array:14 [ "id" => "integer" "edicao_id" => "integer" "trabalho_id" => "integer" "inscrito_id" => "integer" "titulo" => "string" "resumo" => "string" "modalidade" => "string" "area_tematica" => "string" "palavra_chave" => "string" "idioma" => "string" "arquivo" => "string" "created_at" => "datetime" "updated_at" => "datetime" "ativo" => "boolean" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dates: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: false #hidden: [] #visible: [] +fillable: array:13 [ 0 => "edicao_id" 1 => "trabalho_id" 2 => "inscrito_id" 3 => "titulo" 4 => "resumo" 5 => "modalidade" 6 => "area_tematica" 7 => "palavra_chave" 8 => "idioma" 9 => "arquivo" 10 => "created_at" 11 => "updated_at" 12 => "ativo" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] }