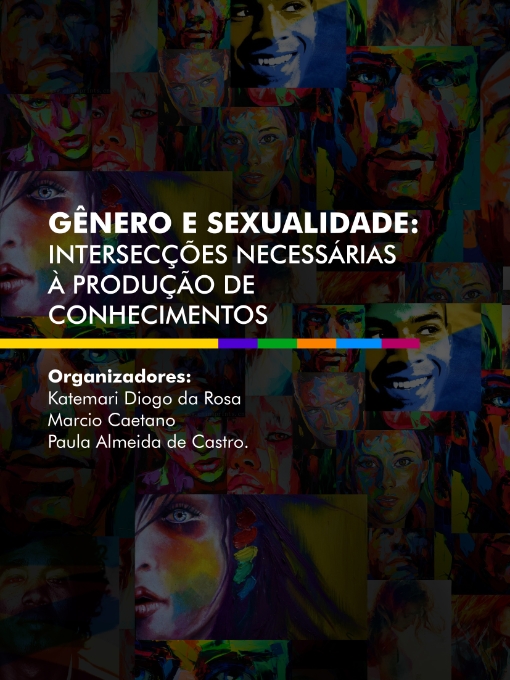XII Colóquio Nacional Representações de Gênero e de Sexualidades
XII CONAGES / Edição 2016 - Vol 1
Prefácio
As revoltas estudantis desenvolvidas em vários países ocidentais, a contracultura, a luta pelos direitos civis de minorias sexuais, os movimentos revolucionários e de independência política nos países americanos, africanos e asiáticos e, sobretudo, as críticas do movimento feminista à estrutura patriarcal e ao sujeito universal, especialmente a partir da década de 1960, abriram caminhos ao surgimento de novos sujeitos sociais e políticos no chamado século sangrento e da emancipação das mulheres, como afirmou o historiador Eric Hobsbawm (1995).
Integrado no intenso debate promovido pelo movimento feminista, o conceito de gênero se disseminou rapidamente entre os campos de produção de conhecimento na segunda metade do século XX. Esse movimento esteve inserido em um momento de alterações substanciais nas Ciências que, por sua vez, não estavam ausentes dos debates políticos que envolviam o contexto de pós-guerras e dos movimentos sociais emergentes em inúmeras partes do mundo. Ao ponderar o sexo como um feito a esclarecer, em vez de fator, por si explicativo, o conceito de gênero corresponde ao propósito de colocar as diferenças entre os sexos na agenda de investigações acadêmicas e nas elaborações de marcadores para as políticas públicas. Esse quadro foi de extrema importância porque possibilitou retirar o corpo do domínio exclusivo da biologia; com o conceito de gênero elaborado pelas feministas, o corpo sexual teve suas análises também orientadas pelas condições históricas e sociais de produção de cultura e política.
Como sustenta Judith Butler (2003) em Problemas de Gênero, publicação na qual propõe a ideia de “matriz de inteligibilidade”, o primeiro elemento a subjetivar o corpo, a fundar na carne a pessoa, seria o gênero, ou melhor, a marca de gênero, e daí o lugar de destaque que o “ultrassom” ocupa nesse processo ao, como um deus, inaugurar o humano. Esse seria, segundo Butler, o momento fundacional do sujeito e, portanto, de estabelecimento de sua inteligibilidade, isso é, da possibilidade de ser “lido” pela cultura heteronormativa.
Com isso, verificamos que os corpos já nascem conspurcados pela cultura, já se originam “cirurgiados” por tecnologias discursivas precisas que irão orientar e validar as formas adequadas e impróprias do gênero, conforme nos afirmou Berenice Bento (2006). Nessa lógica normalizada não somos somente nós a determinarmos o gênero de nossos corpos, eles são configurados por meio dos diálogos com as tecnologias educativas e performativas que nos regulam. A construção dos corpos-sexuados, naturalizados como diferentes, é mais um assunto da disputa de saberes que se instaurou com a história da modernidade. Como o gênero é constituído e significado através de tecnologias educativas assimétricas de âmbito cultural, social, político e histórico, é ele que significa o sexo. Portanto, não existe sexo in natura sem gênero.
Até aqui temos defendido que os corpos são diariamente interpelados e as pedagogias que os educam buscam milimetricamente desenhar suas configurações identitárias. Mas é preciso que saibamos que, nas vivências rotineiras dos sujeitos, as identidades são posteriores à configuração cotidiana do corpo, essa é mais ágil e rizomática, é menos capturada pela classificação. Elas, as identidades, precisam, para existir, de um “teatro” discursivo que solicita aos recursos científicos, sociais, culturais e históricos a sua escrita linguística orientadas pelas dinâmicas androcêntricas e heteronormativas.
Como situação, a dimensão de conhecimento sobre o corpo, a produção do sexo no corpo e a própria invenção do gênero a partir do sexo são interpelados e ganham significados sociais na cultura. Essa situação lembra Foerster (1996), no momento que o autor descreve “o mundo como uma imagem da linguagem. A linguagem vem primeiro; o mundo é uma consequência dela[...] Se alguém inventa algo, então é a linguagem o que cria o mundo” (p. 66). Nesse sentido, ela não é apenas um meio pelo qual a realidade se torna acessível aos sujeitos e pelo qual compartilhamos significados, mas produtora de realidades. Quer dizer, constitui a linguagem, portanto, o próprio mundo e as coisas que nele habitam. Somos seres de linguagem. Não há nada antes da linguagem. Se esse “antes” existe, ele não pode ser recuperado senão pela linguagem.
Quando trazemos essas provocações de Foerster e Butler para refletir sobre as dimensões do gênero e das sexualidades, somos conduzidos e conduzidas a pensar que elas falam muitas linguagens, se dirigem a muitos tipos de pessoas e oferecem uma cacofonia de distintos valores e possibilidades. A capacidade humana de inventar identidades, desejos e práticas a partir de seus significados sobre gênero e sexualidades fragiliza qualquer certeza e nos denuncia que mesmo com toda a tentativa de determinar as performativi- dades dos corpos, com graus de liberdade, as pessoas se reinventam, elas produzem seus corpos e existências.
Levando em consideração que o corpo é a base onde o conhecimento é significado e é ele o ponto de partida da produção e expressão da cultura, as sexualidades e o gênero ganham significados e reafirmam a necessidade de problematizá-los continuamente com vista a fragilizar suas verdades. É neste cenário que emerge o livro “Gênero e Sexualidade: interseccções necessárias à produção de conhecimentos” originário dos debates oportunizados com a estudantes, profissionais, pesquisadores/as e interessados/as nas discus- sões acerca das questões relacionadas a gênero, sexualidade e produção do conhecimento que estavam XII Colóquio Nacional Representações de Gênero e de Sexualidades, realizado de 08 a 10 de Junho de 2016, no Centro de Convenções Raymundo Asfora - Campina Grande - PB.
Katemari Rosa
Marcio Caetano
Paula Castro
Ver mais
Integrado no intenso debate promovido pelo movimento feminista, o conceito de gênero se disseminou rapidamente entre os campos de produção de conhecimento na segunda metade do século XX. Esse movimento esteve inserido em um momento de alterações substanciais nas Ciências que, por sua vez, não estavam ausentes dos debates políticos que envolviam o contexto de pós-guerras e dos movimentos sociais emergentes em inúmeras partes do mundo. Ao ponderar o sexo como um feito a esclarecer, em vez de fator, por si explicativo, o conceito de gênero corresponde ao propósito de colocar as diferenças entre os sexos na agenda de investigações acadêmicas e nas elaborações de marcadores para as políticas públicas. Esse quadro foi de extrema importância porque possibilitou retirar o corpo do domínio exclusivo da biologia; com o conceito de gênero elaborado pelas feministas, o corpo sexual teve suas análises também orientadas pelas condições históricas e sociais de produção de cultura e política.
Como sustenta Judith Butler (2003) em Problemas de Gênero, publicação na qual propõe a ideia de “matriz de inteligibilidade”, o primeiro elemento a subjetivar o corpo, a fundar na carne a pessoa, seria o gênero, ou melhor, a marca de gênero, e daí o lugar de destaque que o “ultrassom” ocupa nesse processo ao, como um deus, inaugurar o humano. Esse seria, segundo Butler, o momento fundacional do sujeito e, portanto, de estabelecimento de sua inteligibilidade, isso é, da possibilidade de ser “lido” pela cultura heteronormativa.
Com isso, verificamos que os corpos já nascem conspurcados pela cultura, já se originam “cirurgiados” por tecnologias discursivas precisas que irão orientar e validar as formas adequadas e impróprias do gênero, conforme nos afirmou Berenice Bento (2006). Nessa lógica normalizada não somos somente nós a determinarmos o gênero de nossos corpos, eles são configurados por meio dos diálogos com as tecnologias educativas e performativas que nos regulam. A construção dos corpos-sexuados, naturalizados como diferentes, é mais um assunto da disputa de saberes que se instaurou com a história da modernidade. Como o gênero é constituído e significado através de tecnologias educativas assimétricas de âmbito cultural, social, político e histórico, é ele que significa o sexo. Portanto, não existe sexo in natura sem gênero.
Até aqui temos defendido que os corpos são diariamente interpelados e as pedagogias que os educam buscam milimetricamente desenhar suas configurações identitárias. Mas é preciso que saibamos que, nas vivências rotineiras dos sujeitos, as identidades são posteriores à configuração cotidiana do corpo, essa é mais ágil e rizomática, é menos capturada pela classificação. Elas, as identidades, precisam, para existir, de um “teatro” discursivo que solicita aos recursos científicos, sociais, culturais e históricos a sua escrita linguística orientadas pelas dinâmicas androcêntricas e heteronormativas.
Como situação, a dimensão de conhecimento sobre o corpo, a produção do sexo no corpo e a própria invenção do gênero a partir do sexo são interpelados e ganham significados sociais na cultura. Essa situação lembra Foerster (1996), no momento que o autor descreve “o mundo como uma imagem da linguagem. A linguagem vem primeiro; o mundo é uma consequência dela[...] Se alguém inventa algo, então é a linguagem o que cria o mundo” (p. 66). Nesse sentido, ela não é apenas um meio pelo qual a realidade se torna acessível aos sujeitos e pelo qual compartilhamos significados, mas produtora de realidades. Quer dizer, constitui a linguagem, portanto, o próprio mundo e as coisas que nele habitam. Somos seres de linguagem. Não há nada antes da linguagem. Se esse “antes” existe, ele não pode ser recuperado senão pela linguagem.
Quando trazemos essas provocações de Foerster e Butler para refletir sobre as dimensões do gênero e das sexualidades, somos conduzidos e conduzidas a pensar que elas falam muitas linguagens, se dirigem a muitos tipos de pessoas e oferecem uma cacofonia de distintos valores e possibilidades. A capacidade humana de inventar identidades, desejos e práticas a partir de seus significados sobre gênero e sexualidades fragiliza qualquer certeza e nos denuncia que mesmo com toda a tentativa de determinar as performativi- dades dos corpos, com graus de liberdade, as pessoas se reinventam, elas produzem seus corpos e existências.
Levando em consideração que o corpo é a base onde o conhecimento é significado e é ele o ponto de partida da produção e expressão da cultura, as sexualidades e o gênero ganham significados e reafirmam a necessidade de problematizá-los continuamente com vista a fragilizar suas verdades. É neste cenário que emerge o livro “Gênero e Sexualidade: interseccções necessárias à produção de conhecimentos” originário dos debates oportunizados com a estudantes, profissionais, pesquisadores/as e interessados/as nas discus- sões acerca das questões relacionadas a gênero, sexualidade e produção do conhecimento que estavam XII Colóquio Nacional Representações de Gênero e de Sexualidades, realizado de 08 a 10 de Junho de 2016, no Centro de Convenções Raymundo Asfora - Campina Grande - PB.
Katemari Rosa
Marcio Caetano
Paula Castro